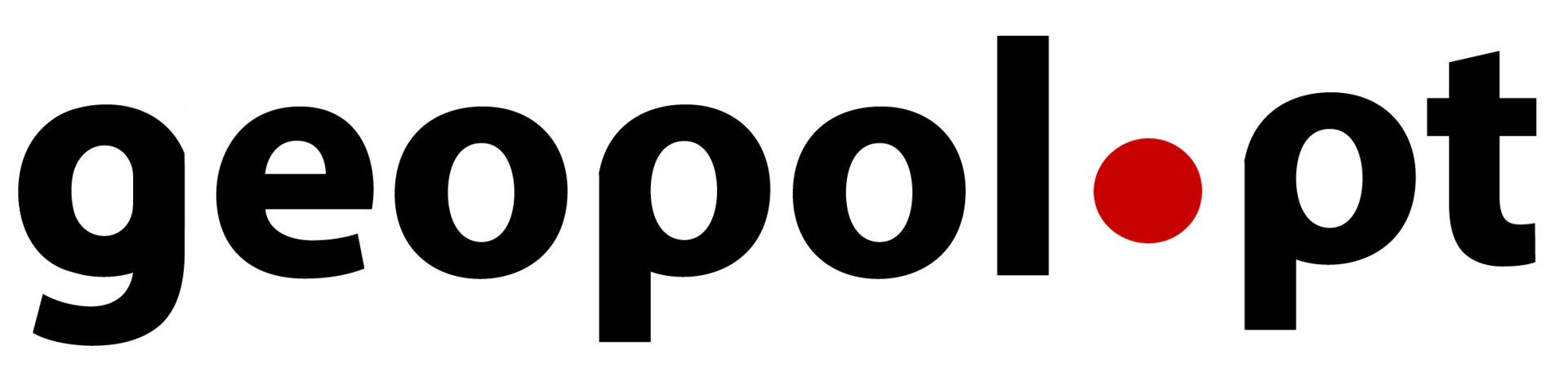Seria ingénuo pensar que Erdogan tomou a iniciativa de orquestrar a invasão da Síria sem o apoio, ou pelo menos o beneplácito dos norte-americanos, ingleses, israelitas e europeus
No espaço de duas semanas após a eleição de Donald Trump, o presidente cessante dos EUA, Joe Biden, lançou uma cartada extremamente disruptora nas relações internacionais, empurrando o conflito na Ucrânia para um patamar muito mais perigoso ao autorizar Kiev a usar mísseis de longo alcance americanos contra território russo, num movimento desleal, certamente com a intenção de dificultar o desanuviamento que o seu sucessor anunciara.
Como se não bastasse, uma semana volvida, a Turquia (o maior exército da NATO na Europa), lançou uma ofensiva na vizinha Síria por interpostos atores liderados pelo HTS, a antiga Frente Al-Nusra, rasgando de facto os acordos de Astana, que tinha com Moscovo e Teerão sobre o seu papel na Síria. Duas escaladas maiores executadas já no período final da administração Biden, nos dois maiores conflitos militares da atualidade, o da Ucrânia e o do Médio Oriente, ambos separados geograficamente pela Turquia, que agora entra em cena.
A mando de quem?
Seria ingénuo pensar que Erdogan tomou a iniciativa de orquestrar a invasão da Síria sem o apoio, ou pelo menos o beneplácito dos norte-americanos, ingleses, israelitas e europeus. Organizar, treinar e armar dezenas de milhares de homens no território sírio sob sua alçada ou na própria Turquia, é uma operação que requer coordenação logística e de inteligência de vários entes estatais e não-estatais.
A Anatólia é o eixo eurasiático por excelência onde confluem três placas tectónicas (a euroasiática, a africana e a arábica). Do ponto de vista geográfico a Turquia sempre foi uma peça a ser usada pela NATO, nomeadamente no Cáucaso e na Ásia Central. É ali onde os espaços naturais de projeção e influência turcos colidem com os russos. Durante décadas, a NATO tolerou as ambições neo-imperiais turcas, em particular no período de Erdogan, mesmo que fossem historicamente anti-ocidentais. Trata-se de um ativo estratégico que os atlantistas guardam para o momento certo. Na realidade, mesmo desde os inícios dos anos 80 o nacionalismo turco já tinha expressão naquelas regiões, e nos anos 90, com o vácuo deixado pelo caos pós-soviético, a influência expandiu-se e reavivou o projeto do Grande Turan, hoje bastante visível na forma da Organização dos Estados Túrquicos. Mas o turanismo não é o único trunfo que conta Ancara. A diáspora turca na Europa por um lado, a rede de beneficência e educacional islâmica manobrada pela Turquia em África, ou a expansão militar com várias bases numa boa dezena de países na Europa, África, Cáucaso e Médio Oriente, conforma as aspirações de projeção de poder turcas no mundo.
A encruzilhada levantina
A reativação da guerra civil síria, ou mesmo o desmembramento do país, está cheia de contradições, de alianças improváveis e objetivos pouco claros, mas também de interesses ocultos mas conhecidos, de uma serie de atores externos que tentam tomar conta do país desde 2011.
Serve bem a Israel, que ao fim de mais de 40 anos de ocupação dos Altos do Golã, legalmente sírios. Telavive poderia expandir o seu domínio na área ante uma Síria provavelmente disfuncional e sem exército. Netanyahu tem também na escalada regional a sua janela de fuga do problema em que se meteu há mais de um ano em Gaza e no Líbano, enquanto espera pela nova administração norte-americana, repleta de sionistas nos postos de política externa. Por casualidade ou não, a tomada da Síria pelas hordas de jihadistas sucedeu um dia após o anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Não seria de admirar que por detrás de este episódio haja um pacto tácito entre Ancara e Telavive para eliminar a influência iraniana da região.
O papel dos EUA é mais nebuloso. Oficialmente não se pronunciaram até a queda final de Assad. Mas também é um papel que não necessita clareza, pois é a única potência que se permitiu ocupar a Síria desde 2014, nomeadamente com bases militares clandestinas no centro-sul e leste do país, justificando esta gritante ilegalidade internacional com a espúria desculpa de assim poder “combater o ISIS”. Na realidade os EUA asseguram assim uma presença militar estratégica com os olhos no Irão e na Rússia e que será certamente oficializada com a próxima fase da Síria. Ademais, Washington conta no terreno com vários atores maiores, como os curdos da SDF, que controlam o norte e o Exército Livre da Síria, enfrentado àquele. Por outro lado, o líder do HTS, Abu Muhammad al-Julani, que agora domina a maior parte do território, cumpriu cinco anos de pena nas masmorras norte-americanas no Iraque (incluindo na famigerada Abu Ghraib). Al-Julani será seguramente o principal e mais valioso ativo dos interesses americanos nesta guerra por procuração.
Mas que terão dado os ocidentais a Erdogan para que tomasse a iniciativa de conquistar a Síria? Qual é a moeda de troca? Está disposta a nova administração síria a deixar a base russa de Tartus, ou será a sua remoção uma das condições da NATO a Erdogan? E a Palestina, o genocídio em Gaza? Vai o Líbano seguir uma possível fragmentação da Síria? Quem formará a nova administração e que ideia terá para o dia seguinte? Há algum acordo energético entre Ancara, Baku e Bruxelas? Que será das relações comerciais, energéticas e de infraestruturas entre a Turquia e a Rússia? Continuará a Turquia a ser candidato aos BRICS? Muitas grandes interrogações foram lançadas.
Síria e Ucrânia, o mesmo conflito
O mais preocupante do atual cenário é que os dois conflitos decorrentes, rodeados de regiões voláteis, se estão aproximando um do outro. O HTS, que é trazido para a Síria por Ancara, esteve na Ucrânia a aprender com as tropas de Kiev novas táticas de combate e ataques noturnos com modernos drones fornecidos pelo Catar. Ao contrário dos Emirados e da Arábia Saudita, o Catar em nenhum momento se solidarizou com o governo de Assad, após a tomada de Alepo. Dos membros da Liga Árabe, o Catar, aliado da Turquia (que tem uma base naval em Doha), foi o único país árabe que se manteve desde 2011 até à data sempre do lado da oposição síria salafista.
Após a facada de Erdogan, a Rússia não poderá aceitar um congelamento da sua atividade militar nas suas fronteiras, sob pena de ver o inimigo a se rearmar mais uma vez. É, portanto, impossível esperar um “Minsk 3” para o período Trump. De todo o modo, um entendimento entre a Rússia e os EUA é necessário. Após quatro anos tão tenebrosos da administração Biden, que trouxe de novo a guerra, haverá certamente esperanças em melhores relações entre as duas maiores potências militares do planeta. Uma escalada no conflito na Ucrânia é impensável.
Mais imigração para uma Europa em recessão
Para a Europa a atual situação na Síria é péssima, pois abre novas perspetivas da entrada de mais centenas de milhar de refugiados, segundo a situação na Síria evolua. A Síria de Assad era uma ditadura, tal como a Líbia de Khadafi, mas assegurava uma estabilidade que agora não é garantida. O “melting pot” em que se tornaram as grandes cidades europeias após as guerras eternas dos EUA desde há 20 anos no Afeganistão, Iraque e Síria, tem também o potencial de arrastar para solo europeu os problemas entre as comunidades enfrentadas no Médio Oriente e com as populações locais, num momento de recessão, como é o caso da Alemanha.
Guerra ao multipolarismo
Com esta jogada, a Turquia abriu o jogo e mostrou querer disputar com a Rússia o seu espaço de influência. Erdogan assumiu o papel desestabilizador que os atores externos seus superiores lhe terão ordenado. O alinhamento de Erdogan com os desígnios ocidentais na Síria, abre uma brecha nas relações com Moscovo e deve ser tomado como uma declaração de intenções.
A guerra da Síria, que tem tudo para se estender no tempo, é também um movimento de grande alcance contra os BRICS, porque a Turquia era um dos mais importantes candidatos à entrada na organização. O controlo daquela região estratégica, cada vez mais no domínio das Rotas da Seda e dos BRICS, entra agora num período de previsível instabilidade. Na realidade, já o estranhíssimo ataque do Hamas em outubro de 2023, sucedeu mesmo no centro das novas adesões ao grupo (Egito, Etiópia, EAU, Arábia Saudita e Irão), lançando a guerra na região, tão ao jeito da “destruição criativa” preconizada pelos think-tanks neocons.
Quando já tudo se preparava para a tomada de uma nova administração norte-americana, que parece pelo menos minimamente pragmática e se mostra disposta a dialogar e a acabar com o conflito ucraniano e o gáudio de que pela primeira vez em três anos um estadista ocidental pronuncie a palavra “paz”, Biden mostrou de forma traiçoeira qual é o seu verdadeiro legado: trazer de volta as guerras eternas, lançar o caos através do suborno e a corrupção, financiando golpes de Estado, descongelando conflitos adormecidos e jogando uns contra outros. Uma velha prática de quem não consegue rivalizar pela economia, o comércio e a diplomacia e julga que vai consegui-lo com guerras.
Peça traduzida do inglês para GeoPol desde New Eastern Outlook
As ideias expressas no presente artigo / comentário / entrevista refletem as visões do/s seu/s autor/es, não correspondem necessariamente à linha editorial da GeoPol
Siga-nos também no Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e VK
- Interview Maria Zakharova - 15 de Julho de 2024
- Alain de Benoist: Quem manda na cultura acaba sempre por dominar o Estado - 2 de Julho de 2024
- A vitória da direita e a ascensão do Chega em Portugal - 20 de Março de 2024