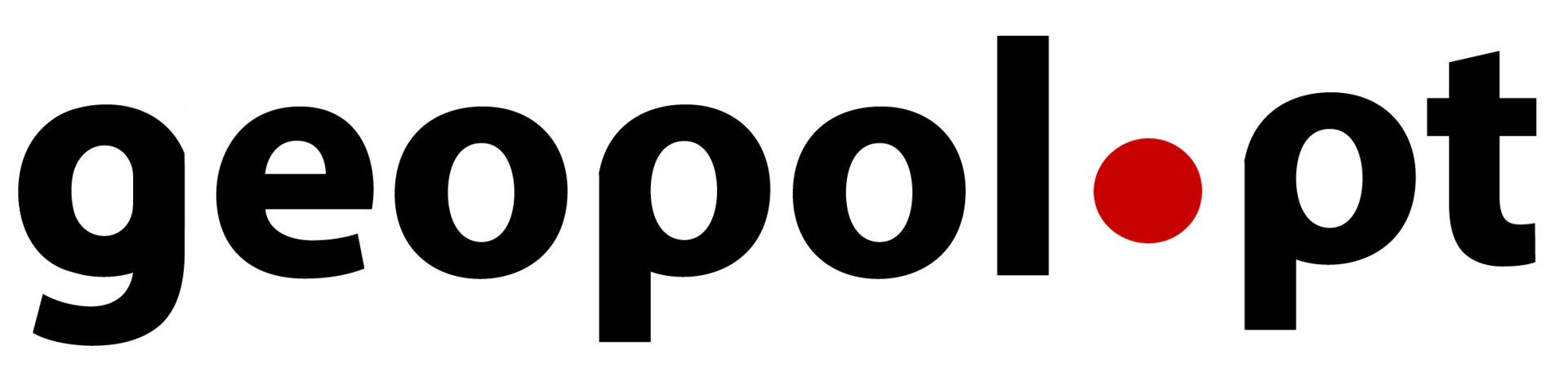Entrevista com Salvo Ardizzone, autor do livro «Ecologismo vs Natura», conduzida por Luigi Tedeschi
Ambiente e Natureza. Enquanto o ambiente é o conjunto dos elementos naturais que nos rodeiam, a Natureza é o princípio da vida, do sagrado, da totalidade holística dos processos naturais que envolvem o homem, a sua história, a sua cultura. Mas será que o ecologismo atual não representa a inversão desta perspetiva? Será que, de facto, o ecologismo, com a transição verde, através da tecnologia, não visa reconduzir o homem às suas origens naturais, mas sim criar um ambiente artificial em que a manipulação da Natureza gera também a transformação antropológica da própria natureza humana?
O cerne da questão é que o Ecologismo ignora o próprio conceito de Natureza; apenas concebe o ambiente, uma área definível, mensurável e quantificável, que é outra coisa completamente diferente. É antitético a ela porque os seus pressupostos e objectivos declarados são antitéticos: a sua missão é tornar “sustentável” o atual processo de desenvolvimento liberalista através de intervenções tecnológicas. Mesmo nas suas manifestações mais radicais, centra a sua crítica nas consequências do atual modelo económico, não nas suas causas, não no paradigma que o determinou e orienta. Ao fazê-lo, propõe um oximoro: teorizar a manutenção do “crescimento”, do desenvolvimento perpétuo conseguido com recursos que são por definição dados: uma magia impossível à qual a ciência é chamada.
[s2If current_user_is(s2member_level2) OR current_user_is(administrator)]
O ecologismo pretende ultrapassar o colapso do sistema atual, modificando a sua trajetória, os seus meios de produção e as suas fontes de energia; não se propõe, de modo algum, substituí-lo por outra coisa, e muito menos negar a sua alma e a sua praxis, que não apreende e se recusa a apreender, limitando-se deliberadamente a uma visão setorial (poluição, clima, etc.) incapaz de compreender o todo, isto é, a deriva da Natureza e o homem separado dela. E isto porque, na sua essência, assenta na mesma base cultural e filosófica que, desde o Iluminismo, nos chega através do Positivismo e do Liberalismo.
No fundo, o Ecologismo é perfeitamente compatível com o quadro cultural, político e económico hoje dominante. Mais ainda, a pretensa “sustentabilidade”, tão camuflada no “nobre” objetivo do bem comum, criou novas oportunidades de lucro, entusiasticamente aceites independentemente do seu conteúdo real; colossal operação de marketing, puro greenwashing. De facto, trata-se de um sistema que diversifica o negócio, no máximo — e com a maior hipocrisia — tentando fazer avançar um pouco mais a fasquia do colapso inevitável. E a chamada transição verde que referiu é um exemplo paradigmático.
É por isso que o Ecologismo não é mais do que o enésimo resultado da deriva atual, nascido do medo pelo bem-estar, pela poluição e pelo clima, mas articulado no horizonte liberal (de preferência declinado em liberal) e liberalista; um mundo que, embora remodelado de um ponto de vista produtivo, pretende perpetuar, não substituir por outra coisa. Em última análise, o Ecologismo nada tem a ver com a Natureza, muito menos com um caminho de regresso ao humano; dadas as suas raízes, é mais um instrumento da deriva atual.
A ideologia liberal dominante afirma a primazia do indivíduo sobre a comunidade. Nenhum significado, nenhum objetivo transcendente pode ser preestabelecido para o indivíduo. Por conseguinte, o mundo, a natureza, o ambiente, tornam-se entidades susceptíveis de apropriação individual. Uma vez que as relações humanas são definidas em termos de direitos de propriedade, o indivíduo é livre enquanto proprietário de si próprio. A natureza, então, não é considerada apenas como um bem económico sujeito a troca, do qual o indivíduo pode dispor livremente, como detentor de um direito inalienável, como proprietário?
A passagem do conceito de comunidade, que vê o ser humano como parte de um todo no qual encontra um lugar e um sentido, para o de indivíduo, que o vê como parte de uma soma asséptica de outros sujeitos separados do mundo, é talvez a cesura mais importante da história da civilização.
No seio da comunidade, as relações de propriedade eram ténues; os objectos, os animais, as casas, as terras, eram vistos em função do seu uso, da sua utilidade para o todo de que se fazia parte, em que se estava inscrito. Mesmo o trabalho e as diversas actividades humanas não visavam o enriquecimento do indivíduo, mas o sustento e o bem-estar da comunidade (lembre-se: bem diferente de uma comunidade), contavam pelo contributo que lhe podiam dar. Exatamente o contrário das “verdades” de Adam Smith & C. e do “sonho americano”.
O percurso da cultura dominante atual alterou profundamente estes conceitos ao ponto de os anular, exaltando o indivíduo e mercantilizando o mundo, — como referido — desubrificando-o a uma mera dimensão económica, mensurável, quantificável, permutável. Um processo que separou o homem — reduzido a um sujeito único, ou melhor, a um objeto desenraizado — da Natureza, que o colocou como superordenado de um planeta despojado da sua sacralidade, reduzido a um amontoado de recursos à sua disposição. Res extensa, mera matéria submetida aos desejos e ânsias de uma suposta res cogitans. Um delírio que cortou as raízes do homem, da civilização que ele exprimiu, dos seus laços com os territórios e entre os seus semelhantes, que poluiu a cultura e definhou a religiosidade, chegando mesmo a legitimá-la para o egoísmo, construindo o homo oeconomicus moderno (ler para isso Max Weber e o seu “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”).
As religiões monoteístas concebem o Divino como um princípio criador exterior ao mundo, alterando profundamente as perspectivas holísticas do paganismo. Com o monoteísmo, fica assim determinada a cisão entre alma e corpo, espírito e matéria, homem e natureza. A transcendência nega a imanência do divino. Mas no Ocidente neoliberal de hoje, as religiões monoteístas estão em vias de extinção. A ideologia científico-tecnocrática dominante, com a manipulação tecnológica da natureza, o desenvolvimento ilimitado, a engenharia genética, não terá degenerado num delírio sobre-humanista de omnipotência? Não será o advento da vontade trans-humanista de poder o resultado final niilista do individualismo iluminista e do mecanicismo racionalista?
A deriva atual é filha de um longo percurso que não conheceu nenhuma cesura na sua maturação progressiva; teria sido muito difícil, e em todo o caso inimaginável nas conotações actuais, sem três impulsos decisivos e interligados. Do primeiro já falámos: a representação do Divino exterior ao mundo, que tem como consequência a dessacralização da Natureza, um efeito de magnitude incalculável. O segundo é a representação do homem como superordenado à Natureza, separado dela, que é colocada à sua disposição.
A combinação destes dois conceitos produz não só a cisão cartesiana entre mente e matéria, mas gera também um sentimento de suposta superioridade do ser humano que, a partir de Kant, num crescendo, substitui a crença na superioridade de Deus sobre a criação pela da mente — res cogitans de que o homem é dotado à semelhança do Criador — sobre a matéria, logo sobre o mundo. Isto introduz uma fé crescente na ciência – da qual ela deriva — e na confiança ilimitada de poder usá-la para compreender os processos da Natureza, que se tornou um mero ambiente, e governá-los à vontade. Mas há mais.
O terceiro conceito introduzido pelas religiões abraâmicas, decisivo na formação do pensamento da modernidade, é a visão historicista do tempo, que para elas procede linearmente da Criação — digitalizada por dias —, continua com o nascimento, a morte, concluindo com o Julgamento e o que se segue. Esta visão é oposta à religiosidade pagã e oriental — que é marcada por ciclos, circular, fluida – caracterizada por mitos e valores a-temporais que não ocorrem num momento determinado e pré-estabelecido da História, mas são considerados sempre presentes. Esta visão historicista foi indispensável para a introdução dos conceitos lineares, até então inexistentes, de História, progresso, desenvolvimento, crescimento perene, constituindo o caldo cultural da Modernidade e o atual modelo de ciência.
Daí que seja hoje pouco relevante o facto de as religiões monoteístas estarem em extinção no Ocidente, substituídas pela ciência cartesiana, conotada como uma religião capaz de dispensar certezas, dogmas que rejeitam qualquer juízo crítico. Ela, desenvolvida no e pelo sistema hegemónico para os seus próprios fins, não é de modo algum “neutra” como pretende, nem — muito menos — super partes, mas constitui a ponta de lança para a sua perpetuação graças às suas aplicações tecnológicas, funcionais aos interesses dominantes, e à estrutura tecnocrática por ela gerada, através da qual o sistema impõe escolhas que lhe convêm.
Trata-se de um processo único, dominado por uma única inspiração, que avança há séculos para a aniquilação do homem como pessoa e como género, para a obliteração do sagrado e para a exploração mais abjecta. Para a anulação do ser humano, primeiro como portador dos valores que fizeram a história e a cultura, depois como espécie.
No seu livro afirma a necessidade de uma mudança de paradigma cultural, para superar o sistema neoliberal global, o que implica o fim do antropocentrismo. Mas a deriva tecnocrática, que tornará a humanidade em grande parte supérflua, não representa já uma superação niilista do antropocentrismo? A ideologia ecológica sanciona o fim do antropocentrismo. O homem, na perspetiva da ideologia ecológica do Green Reset, da Woke Culture e da Big History, deixou de ser o protagonista da história e toda a humanidade foi criminalizada. Não estará o homem, com o fim do antropocentrismo, degradado de sujeito a objeto do progresso científico?
Gostaria de fazer uma premissa: na minha opinião, para compreender as dinâmicas e os desenvolvimentos da deriva atual, é necessário interpretá-la descodificando-a; se a olharmos despida das armadilhas passadas por “novidade” — uma exigência inalienável dos nossos dias — não há cesura, não há mudança de rumo. Os conceitos subjacentes ao antropocentrismo não mudaram em nada; o que mudou foram os âmbitos e os métodos de aplicação num processo coerente com pressupostos e fins. Por isso, eu não falaria de superação, muito menos do fim do antropocentrismo, mas de evolução, uma adaptação óbvia às conveniências do sistema hegemónico. Que, ao longo do tempo, permanecem inalteradas porque inalteradas são as bases da cultura e da ciência dominantes. E o modelo económico que delas deriva.
Já dissemos que a ciência atual tem o mesmo horizonte cultural do sistema dominante, do qual recebe indicações sobre as áreas de investigação e os recursos, que são tanto maiores quanto lhe são funcionais e convenientes. Também já aludimos ao condicionamento ainda mais rígido a que a tecnologia está sujeita: se à ciência é deixado um mínimo de autonomia, para investigar possíveis novas vias úteis ao sistema económico, a tecnologia orienta as suas aplicações exclusivamente em função do “mercado” que possam ter, isto é, do lucro que proporcionam. E, sendo um sistema movido pelo mais desenfreado neoliberalismo, é só para si que olha, não para a comunidade que simplesmente ignora. É neste sentido que as “revoluções industriais”, orgulho do pensamento liberal, devem ser lidas: elas não surgiram como resultado de um “pensamento iluminado”, mas porque os sistemas dominantes precisavam de novas ferramentas para iniciar processos que lhes fossem benéficos. Mas há mais e pior.
Durante muito tempo, os grupos dominantes “governaram” os povos, em seu nome mas no seu próprio interesse, controlando-os com diversos instrumentos (económicos, políticos, sociais, culturais, etc.). No entanto, isto exigia um certo grau de mediação para garantir o consenso, um processo considerado limitativo — logo, disfuncional — para aqueles que recusam limites ao seu poder discricionário. Por isso, considerou-se muito mais conveniente passar a um governo sem o povo, privando-o de qualquer papel. Como?
Entrou em cena a ciência, a quem foi atribuída a patente da infalibilidade — por ser considerada superior à política, agora destituída da capacidade de escolha por ser considerada propensa a erros quando não orientada por fins condenáveis —, de modo que é a única que pode conduzir à escolha “certa”, a tecnologia é o caminho para lá chegar, e o técnico é o melhor condutor porque é a ciência que o orienta. Num regime — é a palavra — tecnocrático, a política, a mediação, o consenso não são considerados necessários, porque as suas escolhas opõem o tabu científico a qualquer crítica, são narradas como as únicas ou as melhores possíveis. Se as pessoas não estiverem de acordo, pouco importa: devem ser “educadas” para aceitarem sem crítica as decisões tomadas “para o seu próprio bem”.
Neste contexto, não só a humanidade se torna um objeto, reduzida a um rebanho a ser dirigido para os interesses de outros, como é a própria sociedade que é manipulada como um todo, sujeita a pedagogias e ortopedias que ficticiamente a decompõem e recompõem. Desde o tempo de Adam Smith, Jeremy Bentham e Stuart Mill, o horizonte não mudou nada: em vez dos interesses de uma pluralidade de sujeitos, o processo está a ser levado a cabo em favor de uma oligarquia cada vez mais restrita. No mundo liberal (e liberalista), o homem está excluído, é um mero objeto. Não desde agora, mas desde sempre. Só mudam as maneiras, as aparências.
O Green Reset baseia-se em dogmas científicos que não podem ser refutados: de facto, revela-se uma ideologia totalizante, que assume o aspeto de uma nova religião. Não se tornará a ideologia ecológica (e com ela a reestruturação verde do capitalismo neoliberal) numa religião imanente, sem esperança de redenção e salvação, porque fundada num irremediável sentimento de culpa, tendo como único horizonte uma sobrevivência artificial e heterodireccionada?
Já dissemos que a deriva cultural moderna tende a legitimar a perpetuação do sistema hegemónico, da sua projeção económica, a única que reconhece. O ecologismo é um produto deste processo: declara possível a manutenção do atual modelo de desenvolvimento, a sua — precisamente — “sustentabilidade”, desvirtuando a crise que afecta o planeta — e com ele a humanidade — para um fator meramente ambiental, para um problema específico que pode ser resolvido recorrendo à ciência e à tecnologia. Em suma: através de mudanças sectoriais.
Ao proteger-se com a ciência e os seus tabus, o ecologismo torna-se uma ideologia totalizante que não admite críticas, que distribui novas certezas, amarra consciências, homologa pensamentos numa pretensa “objetividade” científica enobrecida por um rótulo “bom”: “sustentabilidade”, “verde”. Expressões mágicas que pretendem implicar um bem-estar comum e, por isso, inquestionáveis e indiscutíveis.
Neste contexto, mais do que um sentimento de culpa e de irredimibilidade da obra da humanidade — conceitos oriundos das religiões abraâmicas, hoje reservados às minorias, quando muito deslocados para o repúdio de um passado que não se compreende e de um presente distorcido —, eu falaria de condicionamento, de mais um instrumento de distração de massas capaz de desviar a atenção e de a orientar por um caminho forçado. Uma dupla vantagem para o sistema dominante: porque legitima a sua manutenção sob outras roupagens — do clássico ao casual, para ficar no assunto —; porque garante outras áreas de negócio.
Tudo isto é aparência heterodireccionada? Claro que sim! No ensaio, passo várias páginas a argumentar que a deriva atual conduziu de um mundo natural a uma realidade (pseudo) não natural, depois a uma realidade artificial e, finalmente, a uma realidade completamente virtual. Em detrimento da humanidade, em benefício de uns poucos e cada vez mais distantes.
Com o declínio do Ocidente e a emergência de um mundo multilateral, a lógica do desenvolvimento (definida por Latouche como a “ocidentalização do mundo”), que é aliás responsável pela degradação do ambiente, não entra também em crise?
Reitere-se, por uma questão de clareza concetual: o Ocidente em declínio não é o Grossraum de Spengler nem o de Schmitt, é aquele que foi usurpado pelos Estados Unidos há 80 anos, hoje Global, ou seja, homologado ao sistema económico liberalista e à cultura (pseudo) liberal. Através da globalização, ela “ocidentalizou o mundo”, exportando lógicas e práticas do capitalismo e do pensamento liberal, marcando territórios e afectando as sociedades e a própria forma de estar no mundo das populações, cometendo um extermínio de culturas.
No entanto, apesar dos efeitos devastadores do “pensamento único” globalizado, persistem no planeta áreas culturais diferenciadas, nomeadamente onde preexistiram civilizações mais antigas e estruturadas ou se desenvolveram doutrinas enraizadas nos valores profundos dos povos antagónicos à deriva liberal. Pelo menos onde os povos não desceram à plebe ou a colectividades indistintas e homogeneizadas. É verdade que, mesmo nesses contextos, a economia de mercado e os instrumentos do capitalismo foram adoptados, mas, diríamos, de forma instrumental, para envolver e explorar a tendência global sem se tornarem escravos da deriva que a move, mantendo o processo subordinado à direção política e não o contrário.
Por outro lado, no momento unipolar, o sistema capitalista e os seus instrumentos foram abraçados à escala planetária, contagiando o mundo com a pura lógica do lucro e os mitos do “crescimento” e do “desenvolvimento” permanentes. No entanto, com o fim da hegemonia ocidental (leia-se, norte-americana), o impulso político-cultural que lhe está subjacente irá desvanecer-se (já está a acontecer). Em todo o caso, será diferente: os países que adoptaram a economia de mercado, mas não ao serviço de capitalistas individuais, e que mantiveram a capacidade de visão política (no Sul Global existem países relevantes e, no novo clima, é provável que aumentem), poderão, na minha opinião, reconsiderar as lógicas de desenvolvimento atualmente em vigor em nome dos interesses globais das sociedades que nelas continuam a ser primárias ou que podem voltar a sê-lo. Tendendo assim a mudar o paradigma hegemónico. Um conceito impossível de concretizar num contexto cultural liberal, que apenas olha para os interesses dos capitalistas individuais.
Se me permitem, no final da entrevista, gostaria de acrescentar que tudo se conjuga: correndo o risco de me repetir, penso que a dessacralização da Natureza para a afirmação da sua materialidade, o declínio das comunidades e a introdução de uma consciência puramente individualista, o triunfo de uma visão utilitarista, mercantilizada, quantitativa e não qualitativa da vida, a interpretação da existência segundo uma pretensa racionalidade que exclui a espiritualidade constituem um caminho que, como dizia Marcel Gauchet, conduz ao “desencantamento do mundo”. É a deriva que está a destruir o planeta e o homem que é parte inseparável dele. Este processo é uma consequência direta da cultura filosófica dominante, da ciência que dela emana e do sistema económico que ela fez nascer: o liberalismo, a ciência cartesiana e o neoliberalismo.
Peça traduzida do alemão para GeoPol desde Italicum
As ideias expressas no presente artigo / comentário / entrevista refletem as visões do/s seu/s autor/es, não correspondem necessariamente à linha editorial da GeoPol
Siga-nos também no Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e VK
[s2If current_user_is(s2member_level1) OR !is_user_logged_in()]
[s2Member-Pro-PayPal-Form modify=”1″ level=”2″ ccaps=”” desc=”ATUALIZE A SUA CONTA PARA ACEDER A ESTE CONTEÚDO: 3€/mês (cancelamento em qualquer momento)” ps=”paypal” lc=”” cc=”EUR” dg=”0″ ns=”1″ custom=”geopol.pt” ta=”0″ tp=”0″ tt=”M” ra=”3″ rp=”1″ rt=”M” rr=”1″ rrt=”” rra=”2″ accept=”paypal” accept_via_paypal=”paypal” coupon=”” accept_coupons=”0″ default_country_code=”” captcha=”0″ /]
[/s2If]