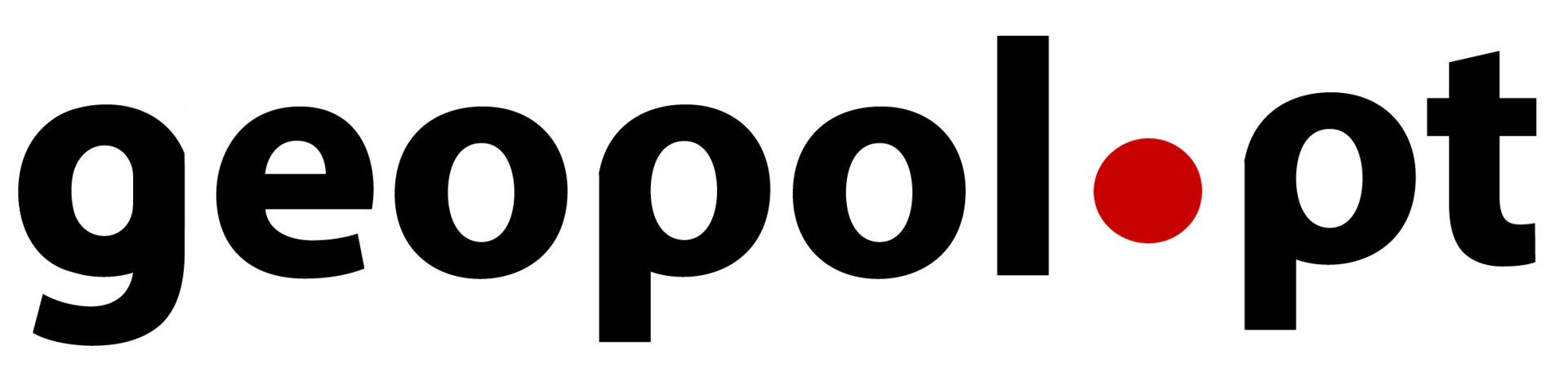Entrevista com Salvo Ardizzone, autor do livro «Médio Oriente: A Guerra na Síria – A Resistência Islâmica Palestiniana» Volume III, Arianna Editrice, 2024
A guerra na Síria acabou por ser um acontecimento que marcou uma época na geopolítica do Médio Oriente e, possivelmente, do mundo. Sancionou a derrota dos objectivos expansionistas dos EUA e dos seus aliados, o fim das Primaveras Árabes e da estratégia do caos. O desfecho do conflito sírio poderá assumir um significado simbólico como a Estalinegrado do Ocidente. O regime sírio, apesar das suas graves deficiências atávicas, tem-se mostrado firme e unido nos seus esforços para preservar a soberania nacional. No entanto, a Síria é hoje um país ocupado em algumas regiões por milícias turcas, islamitas, curdas e bases americanas. Perante a agressão ocidental, a Síria tem sido apoiada por aliados ambíguos (Rússia) e pelas milícias do Eixo da Resistência, que ainda guarnecem partes do seu território. Coloca-se então a questão: como poderá a Síria salvaguardar a sua integridade territorial e a sua soberania nacional no futuro, assente em ocupações de amigos e inimigos?
Tem razão, a guerra na Síria, que rapidamente se estendeu ao Iraque, foi a crise sobre a qual se descarregaram todos os defeitos da região, a tentativa – falhada – de travar a progressão da Doutrina da Resistência em direção ao mar por aquilo a que chamo no livro «Il Fronte dell’Oppressione», sobreposta pelas iniciativas de várias outras potências para realizarem os seus próprios interesses.
[s2If current_user_is(s2member_level2) OR current_user_is(administrator)]
Após anos de derramamento de sangue, a ameaça de desmembramento da Síria, tornando o que restava dela uma fonte de desestabilização pior do que a Líbia, foi evitada, mas a crise não está de modo algum resolvida, está congelada à espera que as condições geopolíticas amadureçam, e é isso que está a acontecer.
É verdade que, até hoje, vastas porções do território sírio estão fora do controlo do governo legalmente reconhecido em Damasco: ao longo das fronteiras setentrionais, a Turquia ocupa várias zonas com as suas próprias tropas e milícias mercenárias da pior espécie; no nordeste, uma grande parte da província de Idlib continua nas mãos do Hayat Tharir al-Sham, ou seja, do ramo sírio da Al-Qaeda; para lá do Eufrates, os territórios são controlados pelas YPG e pelas SDF hegemonizadas pelos curdos sob as ordens dos Estados Unidos; na junção das fronteiras síria, jordaniana e iraquiana, os americanos apoderaram-se arbitrariamente de uma área com cerca de 55 quilómetros de raio, com al-Tanf no seu centro, fazendo dela um buraco negro onde podem recrutar terroristas e continuar a tentar desestabilizar a Síria.
Também é verdade que os russos estão presentes na Síria, tendo assegurado a base naval de Tartus (sobre a qual exercem jurisdição soberana desde 2017, na sequência de um acordo com Damasco) e a base aérea de Hmeimim (para além de outras secundárias). Da mesma forma, é um facto que as forças do Eixo da Resistência (conselheiros da Força Quds iraniana, Hashd al-Shaabi iraquiana, Fatemiyoun afegã e Hezbollah) estão presentes e operam em território sírio. Mas há que fazer uma distinção: enquanto a Rússia está na Síria certamente com base num acordo com o governo legítimo, mas para realizar os seus próprios interesses com base na coincidência de determinados objectivos, a Resistência sempre seguiu uma estratégia em que a estabilização do país é parte inseparável do seu programa. Tal como – também em consonância com Damasco – a oposição irredutível a Israel e à ocupação dos Montes Golã.
Perguntam quando e como é que a Síria recuperará a plena soberania sobre todo o seu território? Bem, quando as partes regionais encontrarem uma solução; a dinâmica atual diz que isso acontecerá mais cedo do que se imagina. Para lá do Eufrates, os curdos confrontam-se com a intolerância crescente, que se transforma em confronto aberto, das populações árabes subjugadas, e a própria presença americana, que não quer comprometer-se no terreno, é cada vez mais precária, sujeita a ataques da Resistência destinados a crescer exponencialmente. Já vimos os sinais disso. Em Idlib, Al-Julani – o emir do Hayat Tharir al-Sham – está em clara dificuldade face à vontade turca de “normalização”; é uma terceira roda nas negociações entre Ancara e Damasco (com o Eixo por trás) e está na balança. Não tardará muito para que esse enclave imploda.
Quanto aos objectivos da Turquia, que, durante a crise síria, começou a jogar o seu próprio jogo na região, Erdogan é um sujeito pragmático que pesa lucros e custos. Na reorganização em curso na região, tentará obter o máximo para si próprio, mas já adivinhou de que lado lhe convém. Já o assinalou, aproveitando as circunstâncias para fazer subir o preço com os Estados Unidos e Israel, pronto para os abandonar na sua derrocada.
Sim, Israel; é a última – mas a primeira – peça a ter em conta: os Montes Golã ocupados nas guerras de 1967 e 1973, e anexados unilateralmente pela entidade sionista em 1981, são para Damasco uma ferida aberta que só a reunificação com a pátria pode curar. E isto através do conflito em curso no Médio Oriente, sublinho, no Médio Oriente e não apenas na Palestina. O objetivo do Eixo é a expulsão da influência americana e a desconstrução definitiva do sistema de poder estabelecido pelos EUA na região, do qual Israel é um pilar essencial. Quando isso acontecer – e repito, os factos dizem que o processo está em curso – as condições prévias para a guerra na Síria serão eliminadas, as peças do mosaico encaixar-se-ão e os países da região poderão recuperar a sua soberania. É nessa altura que a Síria poderá recuperar plenamente a sua própria soberania.
O conflito na Síria levou ao relançamento da política de poder da Rússia. O seu papel no apoio à Síria na guerra contra a Frente da Opressão foi, de facto, decisivo. Mas a Rússia sempre se mostrou um aliado ambíguo, quer pela sua atitude muitas vezes complacente em relação à Turquia, em detrimento da Síria, quer pela sua consistente vontade de evitar qualquer conflito com Israel, configurando-se a sua política, de facto, como uma ação de contenção da influência do Eixo da Resistência na região. Mas a guerra de Gaza veio perturbar estas estratégias. A Grande Guerra entre o Ocidente e as potências emergentes que surgiu na Ucrânia estendeu-se ao Médio Oriente, onde a Rússia é forçada a fazer uma escolha de campo decisiva, uma vez que a sua política complacente em relação a Israel se tornou inviável. Por conseguinte, não terá a Rússia de proceder a uma revisão completa da sua política para o Médio Oriente, sob pena de correr o risco de ser marginalizada na região?
Para que não restem dúvidas, convém reiterar: a proximidade de longa data do governo de Moscovo com o de Damasco não foi a razão da sua intervenção na Síria, mas sim a oportunidade perfeita oferecida à Rússia para perturbar o jogo que a via no canto para onde o Ocidente liderado pelos americanos a tinha relegado após a anexação da Crimeia.
Foi uma decisão ditada por uma realpolitik lúcida em prol dos interesses russos; nada de surpreendente e muito menos de escandaloso. Na Síria, Moscovo foi certamente para assegurar a única base naval de “águas quentes” (na realidade, então um local de desembarque técnico com um par de docas flutuantes) e, sobretudo, para se inserir numa zona estratégica da qual os EUA se estavam a afastar. E com isso adquirir cartas de peso para jogar noutros jogos considerados mais relevantes (veja-se, por exemplo, o posterior nascimento da OPEP Plus com a qual Moscovo gere o mercado do crude em concertação com Riade). Mas há mais.
É certo que, ao ir para a Síria, a Rússia ter-se-ia inserido nos jogos de Ancara, com quem tinha muitos jogos abertos desde então, e tinha a intenção de acertar contas com os combatentes estrangeiros do Cáucaso, antes que estes voltassem para reavivar um terrorismo cujas feridas já tinha experimentado. Mas, ali, Moscovo sabia que encontraria um apoio – mantido nos bastidores mas indispensável – em Israel, tornando-se o seu garante face ao crescimento do Eixo da Resistência. Uma relação estreita, geralmente silenciada pelos comentadores, mas que encontra explicação na importância da componente ashkenazi na política e na economia russas, bem como na sociedade israelita: O russo é a terceira língua em Israel, que, dos seus 9,3 milhões de habitantes, incluindo cerca de dois milhões de árabes, tem 1,5 milhões de falantes nativos de russo; uma grande minoria exprime o Israel Beitenu, um partido de direita radical liderado por Avigdor Liebermann, formado por imigrantes russos e que conta muito na cena política israelita; e, mais uma vez, há dezenas e dezenas de milhares de cidadãos russos muito influentes – e ricos – a viver em Israel, possivelmente com dupla cidadania.
Voltando aos dias de hoje e aos possíveis desenvolvimentos futuros, penso que é improvável que Moscovo pense em mudar radicalmente a sua postura, em reformular radicalmente a sua política, apesar das mudanças impostas pela guerra entre o Ocidente e o Sul Global. É improvável que Moscovo pense em romper com a Turquia, apesar da concorrência que enfrenta em muitas esferas: há demasiados interesses económicos (Ancara é um centro energético para as exportações russas e uma ponte para as triangulações que contornam as sanções) e estratégicos (é impensável que ponha em risco a sua saída do Mar Negro e vários outros dossiers no Cáucaso e na Ásia Central) para que possa pensar numa rutura. E, tendo em conta as condições prévias, é igualmente impensável que rompa drasticamente com Israel.
Cuidando dos seus interesses e das suas relações com o Sul Global no quadro da Grande Guerra, pode mesmo reagir de forma rude ao que se passa no Médio Oriente. Veja-se o comportamento sem precedentes do embaixador russo que abandonou o Conselho de Segurança quando o representante israelita estava a falar, ou a desaprovação manifestada pelo ataque ao consulado iraniano em Damasco e a aprovação da subsequente reação iraniana. Mas não acredito que a Rússia vá fazer uma escolha clara de campo, não tem interesse em fazê-lo; precisamente porque está envolvida numa luta existencial, não é concebível que tome abertamente partido contra o Irão ou a Turquia, nem concretamente contra Israel. E depois?
A luta existencial em que está envolvida alterou as linhas vermelhas da Rússia, tornando-as mais sensíveis em qualquer caso, no entanto, é bastante provável que, se não for forçada, Moscovo se abstenha no ponto de recusa, deixando a dinâmica seguir o seu curso. Por outras palavras, no quadro geral em mutação, será menos permissiva em relação a Israel e, se acabar por ser alvo de um ataque concêntrico da Resistência, bem, não creio que vá entrar em campo ao seu lado, mas sim, quando muito, oferecer uma mediação. O mesmo se passa no caso de um hipotético confronto entre Ancara e Teerão.
O conflito de Gaza constitui uma fase sem retorno na geopolítica do Médio Oriente. E isto é especialmente verdade para a Turquia. A diplomacia sem escrúpulos de Erdogan, de alianças subtis e confrontos súbitos com todos e contra todos, pode chegar ao fim. A Turquia pós-Gaza terá de se reposicionar: os acordos com Israel para a exploração de jazidas de gás no Mediterrâneo Oriental tornaram-se inviáveis. A Turquia pôde praticar uma política de poder graças ao financiamento do Catar e ao facto de os seus projectos expansionistas serem compatíveis (ou pelo menos não estarem em conflito) com as estratégias da NATO. No conflito do Siraque, os EUA apoiaram os curdos em detrimento de Erdogan e, com a afirmação do Eixo da Resistência, a influência iraniana no Médio Oriente alargado aumentou, em contraste com os objectivos expansionistas turcos no Curdistão e na zona do Mar Cáspio. A guerra israelo-palestiniana porá, portanto, fim às ambições imperiais neo-otomanas da Turquia? Que novo papel geopolítico poderá a Turquia assumir no Médio Oriente?
É verdade que o dia 7 de outubro foi um divisor de águas entre um antes e um depois, mas é necessário concentrarmo-nos no alcance da mudança: com o dilúvio de Al-Aqsa, o que resta do sistema americano de dominação na região e, evidentemente, o seu pilar israelita inalienável, foi posto em causa. Dito isto, é igualmente verdade que Erdogan imprimiu à Turquia uma dinâmica imperial multifacetada que explora as oportunidades oferecidas pela situação.
Ancara projectou-se nos Balcãs, no Cáucaso, na Ásia Central e, por via marítima, com a Doutrina “Mavi Vatan” (a “Pátria Azul” teorizada pelo almirante Gurdeniz) em direção a África, à Líbia, à Somália e, mais além, ao Oceano Índico. Houve e há também uma tentativa de expansão da Turquia até uma linha que vai de Alepo a Mossul, colidindo com a integridade da Síria e do Iraque e, portanto, com a projeção da Revolução Islâmica nessas terras. Por fim, para controlar os recursos do Mediterrâneo Oriental (uma zona extraordinariamente rica em gás), e para ter um ponto de apoio na sua visão da região, tem-se apoiado fortemente numa parceria com Israel.
Assim, as convulsões que se seguiram ao 7 de outubro são uma lápide para as aspirações neo-imperiais de Ancara? Na minha opinião, não. Para interpretar os novos tempos, marcados por uma multipolaridade que vê a fusão dos Estados-civilização, é preciso abandonar a visão tipicamente ocidental de um mundo dividido em blocos. Dividido em blocos, entre negros e brancos, entre amigos e inimigos. Fora do Ocidente, não é assim que funciona, e menos ainda atualmente. A menos que haja conflitos entre adversários existenciais.
Na persistente tagarelice europeia, a rota dos Balcãs abriu-se agora para a Turquia, tal como a africana, em coabitação com uma presença russa muito maior e uma influência chinesa exponencial. No Cáucaso e na Ásia Central, é do interesse conjunto russo-turco encontrar acomodações em vez de conflitos; o Siraque e as relações com Israel continuam a ser problemáticos. As recentes eleições autárquicas mostraram que o eleitorado turco exige dureza e Erdogan foi obrigado, primeiro, a levantar a voz (fumo) e, depois, a cortar o comércio lucrativo (substância dolorosa para ele), pelo menos enquanto durar a guerra, sob pena de uma queda drástica do consenso interno e do soft-power que Ancara está a tentar construir no mundo islâmico. No futuro, quem sabe, o presidente turco habituou-nos a piruetas sem precedentes.
Os factos dizem que Israel está hoje claramente enfraquecida, em risco real de implosão, e os Estados Unidos em retirada da região. O neo-sultão negociará com Washington e manterá Telavive na corda bamba, subindo e descendo o tom de acordo com as conveniências, tendo o cuidado de não arriscar de acordo com o equilíbrio benefício/custo. O mesmo se passa no Siraque, onde os curdos estão destinados ao sacrifício: O Rojava sírio já está em estado avançado de desmoronamento devido a confrontos internos nas SDF entre elementos árabes e curdos, com os americanos como espectadores exasperados; o Curdistão iraquiano é um barril de pólvora, com o clã Barzani incrustado em Erbil, que faz intrigas com os americanos, israelitas e turcos, mas que se aproxima de um confronto com o Irão e o Hashd al-Shaabi iraquiano (que conta com a total cooperação do clã Talabani de Sulaymaniyah, pronto para mais uma luta interna). Inevitável epílogo desastroso para aqueles que se venderam a toda a gente.
Que, neste contexto, Erdogan tente apresentar-se como neo-sultão em África, protetor dos muçulmanos nos Balcãs e dos palestinianos em Gaza, restaurador da segurança interna turca graças à fuga dos curdos (que todos, afinal, até os americanos, estarão dispostos a ceder-lhe) e, entretanto, procure novas margens (e parceiros) para a exploração dos recursos mediterrânicos, é perfeitamente possível. Até que ponto será bem sucedido é outra questão (o fracasso nas eleições administrativas é um sinal de alarme). Ligado aos equilíbrios que surgirão da guerra em curso, que ele tentará explorar de todas as formas.
Uma vitória israelita neste conflito é altamente improvável, tal como um regresso ao status quo anterior à guerra da configuração geopolítica do Médio Oriente. Apesar do genocídio em curso em Gaza, Israel não conseguirá erradicar o Hamas. Israel também já não é o “cão raivoso” que Dayan previu no que respeita à sua dissuasão militar. As consequências de Gaza são, nalguns aspectos, inteiramente previsíveis. Israel será um país dilacerado por conflitos internos irreconciliáveis, numa economia de guerra perpétua, isolado na região, envolvido num estado de guerra permanente nas suas fronteiras, a sul com o Iémen e a norte nas fronteiras do Líbano e da Síria. Não poderá o Estado judaico deflagrar a longo prazo, dada a sua sobre-exposição em conflitos latentes e/ou abertos que não conseguiria sustentar? Poderá contar sempre com o apoio incondicional dos EUA, que já não querem estar diretamente envolvidos nos conflitos do Médio Oriente, uma vez que a sua prioridade estratégica é a contenção da China no Pacífico?
Independentemente do que se diz no Ocidente, Israel já está derrotado porque o sucesso ou o fracasso se mede pelos seus objectivos no conflito, que falhou rotundamente. No Médio Oriente, a perceção da sua capacidade de dissuasão está em frangalhos, já o estava após o 7 de outubro, e está ainda mais após sete meses de guerra inútil com um selo postal de 365 quilómetros quadrados que não consegue controlar. Ter então indicado como objetivo de vitória a destruição do Hamas, uma entidade política enraizada entre os povos do Médio Oriente e parte integrante da Resistência Islâmica, manifesta uma falta de perceção da realidade. É ridículo pensar em matar ideias, muito menos quando elas são tão amplamente partilhadas.
Partindo de cabeça erguida, sem outra estratégia que não a da força (o que lhe é habitual), Israel não sabe hoje como sair dela: o Tsahal está a desgastar-se em Gaza, sofrendo perdas muito, muito maiores do que admite; apesar de uma ação exaustiva, tem dificuldade em controlar a Cisjordânia; está exposto no Norte, onde o Hezbollah criou uma zona-tampão de facto, na qual a Resistência ataca à vontade (leia-se a própria imprensa israelita para confirmar). Não dispõe de homens suficientes para uma luta tão prolongada (é a direção das FDI que o diz): os reservistas não podem ser mantidos em serviço por mais tempo e o exército permanente precisa de descanso. E, de facto, há mais de um mês que se retirou de Gaza, limitando-se a guarnecer o corredor de Netzarim, a sul da cidade de Gaza, onde está sob ataque contínuo, enquanto a Resistência retomou o controlo militar e administrativo de toda a Faixa e continua a lançar foguetes.
É uma situação completamente sem precedentes, porque as características do conflito não têm precedentes. Agravou-se após os acontecimentos entre 1 de abril (ataque ao consulado iraniano em Damasco) e a noite de 13 para 14 (resposta de Teerão). Pela primeira vez, Israel descobriu que era vulnerável a um ataque que, além do mais, tinha sido previsto, que era incapaz de enfrentar sozinho as ameaças e que a ajuda dos Estados Unidos já não era automática e totalmente incondicional. Um verdadeiro trauma para os dirigentes israelitas.
A economia também não está melhor: sectores inteiros estão paralisados (na agricultura e na construção, eram os palestinianos que lá trabalhavam, na alta tecnologia, os reservistas) e o aumento do frete e do transporte de mercadorias devido ao bloqueio do Mar Vermelho pesa sobre um país que tem vastas áreas reduzidas a deserto devido às deslocações internas; não vale a pena falar de turismo.
Mesmo a Hasbara já não funciona; após sete meses de massacres, a narrativa de Israel nunca esteve tão em crise no mundo; mesmo no Ocidente, levantam-se vozes críticas. É verdade que os Estados Unidos nunca o abandonarão, mas o preço que estão a pagar está a revelar-se politicamente insuportável. Foi por isso que pensaram em livrar-se de Netanyahu, transferindo para ele o ónus da catástrofe, uma perspetiva sem precedentes de mudança de regime no país da Palestina. Mas, com o passar do tempo, aperceberam-se de que qualquer substituto – Benny Gantz, Gadi Eisenkot ou outros – não mudaria a substância da situação. Mais! Perceberam que Israel corre o risco de se estilhaçar nas suas mãos, pelo que Biden é forçado a continuar um apoio que prejudica a imagem e o poder dos EUA.
“Bibi” é assombrado pela perspetiva de um mandado de captura internacional do TPI, um desastre político e um prenúncio de mais mandados futuros para os seus julgamentos. A sua esperança era induzir uma intervenção direta dos Estados Unidos, que a princípio se mostraram desconfiados, mais do que nunca no atual clima de deterioração: com a energia em declínio, têm a cabeça e os interesses vitais noutro lugar. É por isso que a ação do Eixo da Resistência, no seu conjunto, é cuidadosamente calibrada em função do objetivo: fazer Israel ferver.
Perante o perigo exasperante para a sua sobrevivência, Netanyahu continua agarrado aos nacional-religiosos mais extremistas (mas atenção: é toda a sociedade israelita que aprova um “castigo coletivo” devastador para os palestinianos, a questão é saber como). A sua última cartada é entrar em Rafah, levar a cabo um massacre e retirar-se gritando “missão cumprida”. Uma eventualidade que Washington abomina por causa do enorme preço político que pagaria perante o mundo inteiro (e que para Biden implicaria uma derrota certa nas eleições presidenciais) e porque sabe muito bem que seria um massacre completamente inútil: como já foi dito, a Resistência está agora totalmente operacional em toda a Faixa, da Cidade de Gaza a Khan Yunis e em todo o lado, e entrar em Rafah não mudaria a situação nem um milímetro.
Os meios de comunicação social discutem muito os planos israelitas e americanos para o rescaldo da guerra, os primeiros tendendo a esvaziar Gaza, os segundos confiando a sua gestão a improváveis coligações árabes com uma ANP cada vez mais evanescente. É pena que tudo isto pressuponha a derrota total da Resistência e a sua erradicação de Gaza. Para os que insistem em projectos desligados da realidade, o campo conta a história inversa. Não se pode/não se quer compreender que os palestinianos estão a ver pela primeira vez uma possibilidade concreta de libertação e não vão permitir que outros decidam por eles. Hoje, o ditado “Se não for agora, quando?” aplica-se-lhes mais do que nunca.
Perguntam-me se Israel vai deflagrar, há muito que defendo que está destinado a implodir. No livro, dediquei várias páginas à análise das suas fissuras internas irreconciliáveis, que a guerra exacerbou: nunca antes, durante um conflito, a sociedade israelita esteve dividida, criticando o seu próprio governo, com o qual – quando muito – costumava acertar contas depois, como em 1973 e 2006. Hoje, a questão dos reféns – cuja dimensão é difícil de compreender no Ocidente – está a dividir o país e as dificuldades crescentes estão a fazer ferver os nós. Para todos eles, a isenção do serviço militar dos haredim (os ultra-ortodoxos ricamente subsidiados pelo governo) tornou-se perturbadora. Para os dois terços da população que suportam todo o fardo da guerra[1], as palavras do rabino-chefe Ytzhak Yosef, que exortou os haredim a expatriarem-se em vez de serem recrutados, foram uma bofetada na cara.
Israel é o último país colonial do mundo. É anti-histórico, tal como é percepcionado fora do Ocidente. E é-o duplamente em tempos de mudanças hegemónicas radicais, como os actuais. A isto juntam-se as contradições irreconciliáveis no seu seio, que desagregam a sua Geocultura, instrumento indispensável de unidade e de projeção. Com a crise profunda do seu protetor – o Ocidente – e a afirmação do seu adversário irredutível – a Resistência Islâmica – é francamente difícil não prever o seu colapso iminente.
Na guerra do Siraque e, mais ainda, no atual conflito israelo-palestiniano, o Eixo da Resistência assumiu um papel de liderança na região. A Resistência não é um conjunto ideológico unitário, mas é a união de um pluriverso étnico, político e religioso, uma síntese global de interesses e objectivos convergentes entre os povos da região. Trava uma guerra de libertação anti-colonial contra Israel e os EUA no contexto da Grande Guerra. Esta guerra não sanciona, de facto, o fim dos modelos de Estado herdados das partições coloniais levadas a cabo pelas potências ocidentais no século passado? Nas cinzas do desvanecimento da hegemonia ocidental, não emergem pátrias transversais culturais, espirituais e religiosas como entidades supranacionais que transcendem os Estados? O atual Médio Oriente não se configura assim como um laboratório geopolítico do novo mundo multipolar ainda em gestação, do qual emergem estados-civilização integrados na organização BRICS? Estará assim a emergir um novo modelo político-institucional, replicável nos mais diversos contextos geopolíticos do mundo?
A guerra que o Eixo da Resistência trava há muitos anos contra os EUA e Israel é certamente anti-colonial e encontrou aceleração nos tempos da Grande Guerra, porque as condições prévias da antiga subjugação da região estão a desaparecer. Este facto é determinado principalmente pelo longo período de maturação da Resistência, que foi acompanhado por um enfraquecimento especular do hegemonismo americano e do regime sionista.
É importante sublinhar que a Resistência não é a replicação de um modelo único, mas sim um organismo articulado: dentro de um mesmo horizonte de valores, declina de forma diferente consoante os contextos culturais, sociais, históricos e económicos e modula-se de forma coerente a várias sensibilidades. É uma forma de interpretar a realidade e de planear o futuro com base num único dasein, uma forma comum de estar no mundo. Neste sentido, as fronteiras dos Estados não são barreiras: as ideias atravessam-nas ao encarnarem-se nas sociedades que as acolhem e as tornam suas. Mas atenção.
Na perspetiva do Eixo de Resistência, as fronteiras estatais não são ultrapassadas porque as diferenças permanecem e devem permanecer, pelo que não serão tocadas. A desconstrução dos Estados existentes no Médio Oriente era o objetivo das malfadadas Doutrinas Bernard Lewis e Odet Yinon: acentuar todas as linhas de fratura existentes, criar novas linhas de fratura, era criar um grande caos que destruiria as sociedades existentes para melhor as dominar.
Pelo contrário, o Eixo pretende harmonizar sem homogeneizar, preservando as diferenças, realizando “Sociedades de Resistência” em cada nação; é esta consonância política, cultural e espiritual de nível superior – coerente com o território – que unifica um quadrante, e não a abolição das fronteiras. É uma doutrina de libertação do Globalismo, do Universalismo e do Imperialismo declinada de forma diferente mas coerente. É este o laboratório geopolítico sem precedentes que se desenrola no Médio Oriente, totalmente original, mas que agora ultrapassou a gestação para se afirmar como uma realidade.
Falas dos estados-civilização, claro, o Irão é um deles, é mesmo um exemplo paradigmático. Neste caso, o novo Médio Oriente que está a emergir de tantos anos de lutas sangrentas será um Großraum tal como entendido por Carl Schmitt. Tem as suas características. E, dada a forte conotação cultural, tem como centro de gravidade um Estado-civilização, o Irão. Como nota adicional, eu evitaria a ênfase excessiva que é dada hoje aos BRICS, como se eles fossem um sujeito político em si mesmos. Pelo contrário, são um contexto, um espaço em que os protagonistas do Sul Global podem entrelaçar relações livres de subserviência, um espaço de realização comum mutuamente benéfica.
Quanto à possibilidade de replicar um “modelo do Médio Oriente” noutros contextos, penso que não.
Os estados civilizacionais e os vastos espaços que os rodeiam caracterizam-se pela especificidade: são irrepetíveis na medida em que possuem características únicas, próprias, coerentes com o seu próprio dasein. Quando muito, a dinâmica subjacente é replicável: a emergência de estados civilizacionais onde as condições existem. Um fenómeno fascinante ao qual dediquei um ensaio anterior.
O unipolarismo americano impôs um dogmatismo ideológico neo-liberal que impediu todos os povos ocidentais de compreenderem o pluriverso geopolítico-cultural do mundo. Já não compreendemos as diversas identidades dos outros povos, a sua história, a sua evolução. Por isso, há que colocar a questão: em que consiste hoje a identidade palestiniana? Uma identidade unitária, mas certamente declinada no plural, como todos os povos do Médio Oriente. Os palestinianos de hoje já não se identificam certamente com o povo da «Nakba», nem com as ideologias laicas da OLP e do socialismo árabe. A política de limpeza étnica levada a cabo por Israel durante 70 anos transformou profundamente a identidade de um povo periodicamente sujeito a guerras de extermínio e despojado da sua terra, mas que sempre preservou os seus valores patrióticos e espirituais unificadores através da sua resistência vigorosa. Quais são, então, os traços identitários unitários do atual povo palestiniano?
É verdade que a utilização de categorias políticas ou culturais ocidentais proíbe a possibilidade de abordar outras realidades, simplesmente impossibilita a sua compreensão. Aliás, sempre foi assim, devido à atitude de pretensa superioridade em que o colonialismo baseou a sua “legitimidade” (vejam-se as muitas obras com que Edward Said denunciou esta postura, sobretudo o “Orientalismo”). Mais do que nunca, agora que a Guerra Cognitiva do Ocidente está a ser levada ao limite, numa tentativa de travar o seu inevitável declínio. A compreensão de povos e culturas diferentes torna-se possível se os tomarmos por aquilo que são, desistindo de os enquadrar em esquemas que lhes são estranhos. Aliás, cada vez mais alheios porque, se no tempo colonial e no tempo do unipolarismo dominante essas categorias se impunham de várias maneiras, hoje reaparecem as diferentes dimensões culturais, sociais, políticas e espirituais dessas populações.
Voltando às questões que me colocou, como tento explicar no livro, o essencial é que os primeiros grupos de resistência palestiniana eram filhos de ideologias estranhas ao povo palestiniano e ao contexto em que se desenvolveram. E não é por acaso que, por assonância, ganharam tanto consenso numa grande parte do Ocidente que os reconhecia como seus vizinhos. Eram realidades desligadas dos sentimentos profundos desses povos, com exceção de uma certa oposição inicial a Israel (e também esta, como nos ensinam os acontecimentos históricos, cada vez mais instrumentalizada por outros interesses). Por isso, esses grupos acabaram por falhar redondamente. Todos eles. Emblemática é a deriva da Fatah, de uma formação combativa para uma cabala de poder corrupta que, tal como a OLP e a ANP, transformou a causa palestiniana num negócio.
Foi uma plêiade de dirigentes e líderes que acabaram por engordar à custa das desgraças do povo que diziam representar; figuras mesquinhas elevadas a ícones pela imprensa dominante porque eram completamente inofensivas, na verdade, funcionais à ocupação israelita da qual, com a ANP, se tornaram zelosos colaboradores e delatores. O exemplo de Arafat é paradigmático: em voga no Ocidente e escolhido como interlocutor por Israel porque lhe era útil mas, juntamente com o seu círculo de poder, era no desespero dos palestinianos que se apoiava graças à corrupção, ao clientelismo e à violência do seu próprio aparelho.
Nas várias conversas que tive com personalidades da cultura e da política palestinianas, foi-me explicado repetidamente que toda uma geração de dirigentes, hoje em dia, conduziu a Palestina à ruína e lucrou com a sua desgraça. Personagens como Mohammed Dahlan, atualmente num exílio dourado no Dubai, são emblemáticas de um ambiente de que as pessoas já não querem ouvir falar. Esta convicção está de tal forma enraizada que o próprio Marwan Barghouti, apesar do seu carácter diametralmente oposto, muito dificilmente poderá desempenhar um papel concreto na Palestina no futuro (partindo do princípio, evidentemente, de que Israel o deixará sair vivo da prisão), uma vez que pertence a uma geração completamente desacreditada – e ultrapassada – aos olhos dos militantes actuais formados na luta contra a ocupação.
Todos os meus interlocutores confirmaram que se formou a partir de baixo e legitimada pela militância uma nova légua de dirigentes, que na Resistência Islâmica – naturalmente declinada em função das diferentes sensibilidades; como já foi dito, a sua caraterística não é ser dogmática mas sim aderir a uma mundividência – encontrou o caminho para a libertação da Palestina. Um caminho que, quer se queira quer não, quer seja reconhecido ou não pelos muitos órfãos do keffiyeh coreográfico de Arafat em terras ocidentais, é hoje abraçado esmagadoramente pelos palestinianos, em Gaza como na Cisjordânia, nos campos de refugiados libaneses como nos jordanos e noutros locais. E basta olhar para os numerosos inquéritos realizados com crescente inquietação, mesmo por empresas ocidentais e israelitas, para nos apercebermos disso.
Referências:
[1] Isentos do serviço militar estão, por privilégio, os haredim, que constituem 12/13% da população israelita, e, por discriminação expressa, os árabes israelitas, cerca de 21%
Peça traduzida do alemão para GeoPol desde Italicum
As ideias expressas no presente artigo / comentário / entrevista refletem as visões do/s seu/s autor/es, não correspondem necessariamente à linha editorial da GeoPol
Siga-nos também no Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e VK
[s2If current_user_is(s2member_level1) OR !is_user_logged_in()]
[s2Member-Pro-PayPal-Form modify=”1″ level=”2″ ccaps=”” desc=”ATUALIZE A SUA CONTA PARA ACEDER A ESTE CONTEÚDO: 3€/mês (cancelamento em qualquer momento)” ps=”paypal” lc=”” cc=”EUR” dg=”0″ ns=”1″ custom=”geopol.pt” ta=”0″ tp=”0″ tt=”M” ra=”3″ rp=”1″ rt=”M” rr=”1″ rrt=”” rra=”2″ accept=”paypal” accept_via_paypal=”paypal” coupon=”” accept_coupons=”0″ default_country_code=”” captcha=”0″ /]
[/s2If]