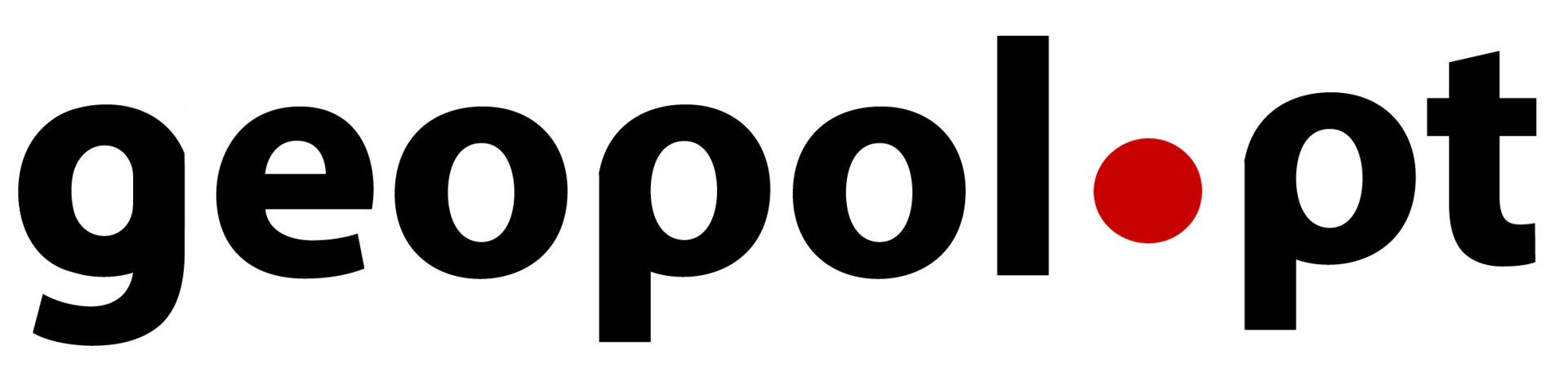Perante o desafio de forças multipolares que desafiaram o paradigma dogmático da ordem global liberal, o trumpismo parece ser a tentativa dos EUA de orientar o processo de transição para o multipolarismo e em vez de o sofrer
Já em 1942, no seu famoso ensaio Terra e Mar, o jurista alemão Carl Schmitt teve ocasião de afirmar: “A fé na predestinação é apenas a intensificação extrema da consciência de pertencer a um mundo diferente do mundo corrupto condenado ao declínio” [1].
Transferindo este conceito para a realidade atual, é evidente que o neo-trumpismo, com a sua fé no “renascimento americano” após a derrota das corruptas “elites globalistas”, se manifesta como uma tentativa de apresentar o novo rumo americano como algo “diferente” do anterior condenado ao declínio.
No Ocidente, culturalmente hegemonizado por Washington, de quatro em quatro anos as massas ficam entusiasmadas com o processo eleitoral norte-americano, na convicção (completamente errónea) de que dele se pode realmente gerar uma “viragem epocal” ou uma “cesura histórica”. Já foi assim nos tempos de Ronald Reagan e no primeiro mandato de Barack Obama, que também conseguiu reunir apoios de ambos os lados da “cerca” (não se deve esquecer que o principal apoiante da campanha de Donald J. Trump, Elon Musk, há muito que se dá bem com a administração Obama e com o ambiente de orientação democrática).
É, pois, evidente que os fenómenos e as dinâmicas a que assistimos se inserem num processo histórico com raízes longínquas, que se desenvolve ao longo de largos períodos de tempo e que terá efeitos durante anos e décadas nas gerações futuras.
Este processo, indissociável do declínio do poder hegemónico global dos Estados Unidos, não pode ser travado; quando muito, pode ser acelerado ou abrandado. E é claro que, num mundo que caminha para uma evolução multipolar (centrada neste momento na desdolarização e na construção de um sistema polivalente), a eleição de Donald J. Trump representa uma espécie de “poder de contenção”: um novo katechon (para usar um conceito também utilizado por Carl Schmitt) que enche de esperança os nostálgicos da ordem unipolar.
Perante o desafio de forças multipolares (como a Rússia, a China, o Irão, etc.) que desafiaram o paradigma dogmático da ordem global liberal (sobretudo a partir da crise económica de 2007-2008), o trumpismo parece ser a tentativa dos EUA de orientar o processo de transição para o multipolarismo e em vez de o sofrer. Por outras palavras, é uma re-proposição “conservadora” do multilateralismo proposto na altura pela dupla Obama-Clinton.
A este respeito, são particularmente interessantes as reflexões de Patrick Deneen (considerado um dos pensadores de referência de J. D. Vance) sobre a ordem global pós-liberal americana, e as de Curtis Yarvin (outro dos principais ideólogos do neo-trumpismo), que avançou com a ideia de que o presidente dos EUA deveria comportar-se como uma espécie de CEO corporativo para gerir o processo de transformação do sistema americano [2].
Este “processo de transformação” não é mais do que o produto do choque entre diferentes potências económicas: a aliança (bastante peculiar) entre os grupos oligárquicos ligados à alta tecnologia (Musk e similares) e à indústria petrolífera contra os sectores “tradicionais” (da finança transnacional a uma parte do sector industrial bélico) que garantiram até agora o acesso à Casa Branca. Não é de subestimar, aliás, o facto de as mesmas empresas “high-tech” se apresentarem agora como potenciais concorrentes no mercado de armamento com a indústria militar tradicional.
Consequentemente, retomando uma ideia apoiada pelo já citado Yarvin, tratar-se-ia da substituição do velho “deep state” por um completamente renovado, assistido por uma superestrutura ideológica “parcialmente renovada”.
É claro que os alegados lados são muito mais transversais e matizados do que se poderia pensar. Basta dizer que pessoas como Larry Fink (diretor do conhecido fundo de investimento BlackRock) têm excelentes relações em ambos os lados. O mesmo processo de reindustrialização dos Estados Unidos (visado por alguns dos grupos oligárquicos que agora apoiam Trump) começou na era Obama e, paradoxalmente, a administração Biden (com a destruição do tecido industrial europeu na sequência da guerra contra a Rússia) deu passos gigantescos nessa direção.
Aliás, reafirmando o conceito de dilatação temporal dos fenómenos históricos, seria útil recordar que o processo de desindustrialização do Ocidente começou muito antes da era do globalismo desenfreado. Como afirmou Johann von Leers num dos seus livros, refutando alguns mitos spenglerianos:
A dispersão da indústria ocidental está em pleno andamento desde 1900. As fiações indianas estão a ser criadas como filiais de fábricas inglesas […] Nos Estados Unidos, a indústria está continuamente a emigrar de Chicago e Nova Iorque para os territórios do Sul, e a tendência não vai parar mesmo nas fronteiras do México.[3]
Assim, não deixa de ser curioso notar como um dos primeiros ideólogos do trumpismo, Steve Bannon, elogiou muitas vezes esse “capitalismo iluminado” do início do século XX que forneceu aos EUA os meios para derrotar o nazismo e “repelir um império bárbaro no Extremo Oriente” (a referência é à URSS)[4].
Anteriormente, falava-se de uma “superestrutura ideológica parcialmente renovada”. De facto, como já foi dito, o neo-trumpismo não se afasta particularmente da dialética política tradicional dos EUA, centrada em duas formas diferentes de entender os conceitos teologicamente derivados de "predestinação" e "destino manifesto". Se é verdade que o primeiro trumpismo era decididamente mais extremista, não é menos verdade que o neo-trumpismo, tendo abandonado em parte as instâncias pseudo-religiosas eco-espiritualistas (pense-se no fenómeno QAnon, que não está totalmente extinto e pronto a erguer-se se necessário), parece muito mais pragmático, embora ainda enraizado no tecido das seitas messiânicas protestantes e judaicas. A escolha da “equipa governamental”, neste sentido, é emblemática. E isso permite uma primeira aproximação a um discurso mais puramente geopolítico.
Com efeito, o senador da Florida Marco Antonio Rubio foi escolhido para secretário de Estado, batendo a concorrência de Mike Pompeo (que substituiu o petroleiro Rex Tillierson durante o primeiro mandato trumpista). No entanto, a sua visão da política externa não difere claramente da do “neoconservador” Pompeo. Rubio foi um firme apoiante da agressão ao Iraque em 2003 e da agressão à Líbia (sob a égide da NATO) em 2011. Também apoiou o apoio logístico dos EUA à agressão da coligação liderada pela Arábia Saudita contra o Iémen (que atingiu o auge durante a primeira administração Trump). Ao mesmo tempo, em 2017, apoiou uma iniciativa interpartidária do Senado dos EUA que se opunha claramente à Resolução 2334 da ONU, que designava a construção de colonatos sionistas nos territórios ocupados da Cisjordânia como uma violação do direito internacional [5]. Por último, Rubio critica abertamente a atual política da Turquia; um fator que não deve ser subestimado à luz da crescente tensão entre Telavive e Ancara.
Mais interessante é a nomeação da ex-militar e ex-democrata Tulsi Gabbard para diretora Nacional de Inteligência. Já crítica da agressão contra a Síria, Gabbard parece ter sido escolhida para realizar o “sonho” da aproximação à Rússia e da divisão do eixo Moscovo-Pequim sobre o qual se funda a “Grande Eurásia” (segundo a expressão do geopolítico russo Sergei Karaganov). Um dos objectivos da administração Trump parece ser o de uma retirada progressiva do teatro ucraniano; inicialmente, descarregando os custos sobre os ombros da Europa (forçando ainda mais um aumento das despesas militares) e, posteriormente, procurando um compromisso para congelar o conflito. Resta saber até que ponto Moscovo estará disposto a fazer tal compromisso – a solução mais plausível é a divisão da Ucrânia em esferas de influência, a sua neutralidade e o reconhecimento das conquistas territoriais russas – e como Washington conseguirá disfarçar o que parece ser, para todos os efeitos, uma derrota estratégica. É possível que a culpa seja inteiramente atribuída à administração Biden. No entanto, é útil recordar que durante o primeiro mandato de Trump, com a saída unilateral do Tratado INF e a consolidação da presença militar da NATO na vizinhança da Rússia (incluindo a Iniciativa dos Três Mares), foram lançadas as bases para a atual situação de conflito. É igualmente útil recordar que, na altura da eleição de Volodymyr Zelensky, o Ukraine Crisis Media Center (uma organização não governamental financiada pela NATO e próxima de Petro Poroshenko, ele próprio em excelentes relações com a administração Trump) forneceu ao recém-eleito presidente ucraniano um conjunto de linhas vermelhas que não deveriam ser ultrapassadas durante o seu mandato. Estas incluíam a proibição de qualquer forma de negociação com a Rússia, a proibição de processar o próprio ex-presidente Poroshenko por corrupção, a proibição de submeter a adesão à NATO a referendo e a proibição de reconhecer qualquer forma de autonomia para as populações de língua russa.
Também é interessante a nomeação do antigo veterano do Iraque e comentador televisivo Pete Hegseth como secretário da Defesa. Parece ser um firme defensor do “choque de civilizações” huntingtoniano e de uma idealização, num sentido eislamófobo moderno, do fenómeno histórico das cruzadas medievais. Como é que um tal fenómeno histórico (puramente cristão, religioso e geopolítico ao mesmo tempo) pode ser associado ao ultrassionismo do próprio Hegseth permanece um mistério difícil de explicar em termos relacionais, mas que, em todo o caso, pode ser rastreado até ao sionismo cristão que, nascido na esfera protestante na viragem para meados do século XIX, considerava o regresso dos judeus à Terra Santa como o pródromo do Segundo Advento de Jesus Cristo.
Num discurso proferido no hotel King David, em Jerusalém, em 2019, por ocasião da conferência anual do Arutz Sheva (um canal de notícias próximo do sionismo religioso), Pete Hegseth apresentou claramente as suas ideias. Em primeiro lugar, ele defendeu a existência de um “laço eterno” entre Israel e os Estados Unidos[6]. Em segundo lugar, na linha do pensamento huntingtoniano e em contraste com o “liberal” Fukuyama, afirmou que a “história acabou” e que “a América não é inevitável” [7]. Por conseguinte, é necessário que a própria América intervenha continuamente na história para manter a sua primazia, eliminando os seus rivais e os de Israel, começando pela “cabeça do polvo”: a República Islâmica do Irão [8].
Além disso, no mesmo discurso, Hegseth prometeu o seu apoio à anexação de toda a Palestina por Israel e enumerou uma longa série de “milagres” que provariam o “apoio divino” à causa sionista:
1917 was a miracle; 1948 was a miracle; 1967 was a miracle; 2017, the decoration of Jerusalem as a capital, was a miracle, and there is no reason why the miracle of the re-establishment of the temple on the temple mount is not possible (não há razão para que o milagre do restabelecimento do templo no monte do templo não seja possível) [9].
No mesmo comprimento de onda parece estar o novo embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, que tem repetidamente defendido a inexistência e insignificância histórica do povo palestiniano e o uso incorreto do termo “ocupação” para definir os regimes nos Territórios Ocupados.
Ora, a ligação do trumpismo a expressões (mesmo diferentes) do messianismo judaico não é particularmente nova. O próprio genro de Trump, Jared Kushner, é muito próximo da seita Chabad Lubavitch. E mais uma vez Trump, por ocasião do aniversário do 7 de outubro (um novo “dia da memória”), visitou o cemitério judeu de Nova Iorque onde se encontra o túmulo do rabino Menachem Mendel Schneerson, líder da seita, que em 1991 declarou aos seus seguidores:
Fiz tudo o que pude para trazer o Messias, agora passo esta missão para vocês; façam tudo o que puderem para que ele chegue [10].
Nada de relevante até ao momento. No entanto, é curioso notar como o consenso em torno de uma tal seita é, de facto, bastante transversal à política das estrelas e riscas. De facto, o próprio rabino foi agraciado com a Medalha de Ouro do Congresso dos EUA em 1994, sob os aplausos do então presidente democrata Bill Clinton. E os Chabad Lubavitch, entre os seus amigos de longa data, podem contar com o atual ex-presidente Joe Biden, apreciado pelas suas posições sionistas sinceras. Demonstrando ainda que, na luta ideológica entre as elites norte-americanas, existe de facto, para além das aparências, uma notável continuidade de intenções (especialmente na esfera geopolítica) entre as diferentes administrações.
Ora, no plano prático, as escolhas de Trump apontam numa direção precisa: o reconhecimento da soberania israelita sobre a Cisjordânia (na linha do que fez com os Montes Golã durante o seu primeiro mandato). Isto, a curto prazo, servirá para apaziguar Netanyahu, de quem, em troca, se espera obter um desengajamento do Líbano. De facto, a comunidade árabe norte-americana votou esmagadoramente em Donald J. Trump graças à intercessão do milionário libanês-americano Massad Boulos, cujo filho Michael é casado com Tiffany Trump (a filha mais nova do recém-eleito presidente dos EUA). E o próprio Boulos parece ser o nome quente para um papel de liderança na política libanesa, uma vez “libertado” da incómoda presença do Hezbollah [11]. Neste caso, os repetidos apelos de Telavive (até agora infrutíferos) a uma “rebelião” dos próprios libaneses contra o Partido de Deus e a sua marginalização política não devem surpreender.
Desta forma, o Líbano, a médio e longo prazo, poderia cair no sistema dos "Acordos de Abraão", garantindo a Israel uma expansão da sua área de influência que poderia levá-lo até às fronteiras da Turquia (outra razão para as crescentes preocupações de Ancara, dado o apoio concedido por Telavive às facções curdas).
Revigorar e expandir os “Acordos de Abraão” significa, em primeiro lugar, afirmar o papel de Israel (e, portanto, dos EUA) como a espinha dorsal de um corredor de comércio de energia (a “Rota do Algodão” prevista pela administração Biden), que do Oceano Índico chega até ao Mediterrâneo Oriental e está em concorrência direta com o projeto da Nova Rota da Seda da China e com o papel dos portos turcos na área.
Em segundo lugar, a liquidação simultânea da questão palestiniana e a redução das capacidades do chamado “Eixo de Resistência” para atacar assimetricamente Israel apresentam-se como funcionais ao projeto americano de cerco, ataque (direto?) e destruição da República Islâmica do Irão. Um objetivo, este último, que muito provavelmente será legado ao sucessor de Donald J. Trump.
NOTAS:
[1] C. Schmitt, Terra e Mar. Uma Reflexão sobre a História Mundial, Adelphi, Milão 2002,р. 84.
[2] Estes aspetos já foram abordados no artigo Paleotrumpism and neotrumpism, 18 de setembro de 2024, www.eurasia-rivista.com.
[3] J. von Leers, Against Spengler, Edizioni all'insegna del Veltro, Parma 2011, p. 51.
[4] Ver A. Braccio, The US versus Eurasia: the Bannon case, 20 de setembro de 2018,www. eurasia-magazine.com.
[5] Ver Bipartisan group of senators call for repealing UN resolution on Israel, 5 de janeiro de 2017, www.timesofisrael.com.
[6] Ver Pete Hegseth at Arutz Sheva Conference, www.youtube.com.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ver C. Mutti, The Sects of the West, Eurasia. Journal of Geopolitical Studies, n.º 2/2021, vol. LXII. LXII.
[11] Massad Boulos: the Lebanese billionaire behind Trump's Arab-American votes, 7 November 2024, www.trtworld.com.
As ideias expressas no presente artigo / comentário / entrevista refletem as visões do/s seu/s autor/es, não correspondem necessariamente à linha editorial da GeoPol
Siga-nos também no Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e VK
- Interview Maria Zakharova - 15 de Julho de 2024
- Alain de Benoist: Quem manda na cultura acaba sempre por dominar o Estado - 2 de Julho de 2024
- A vitória da direita e a ascensão do Chega em Portugal - 20 de Março de 2024